Saber da própria morte lhe paralisa ou, ao contrário, dobra sua velocidade?
Esses dias escrevi sobre a velhice e o fim da vida. E sobre como transformar a longa reta final numa oportunidade para dizer coisas fundamentais às pessoas que foram fundamentais em sua vida: muito obrigado, me desculpe, eu te perdoo.
Há outro viés nessa conversa. A consciência da própria finitude pode ter dois efeitos na vida da gente. De um lado, saber que a morte está logo adiante, numa esquina qualquer dessa avenida por onde rodamos, pode lhe acelerar, lhe emprestar energia extra para imprimir ainda mais velocidade à sua trajetória – afinal, não há nada a fazer senão viver muito e viver tudo antes que acabe. Nesse caso, o fim funcionaria como um combustível de alta octanagem.
De outro lado, isso pode lhe frear – afinal, que sentido há em construir qualquer coisa sabendo que você não vai durar? Por que despender tanta energia no que quer que seja se amanhã você pode cair duro – e se em três ou quatro gerações ninguém terá a mais vaga ideia de que você um dia existiu? Nesse caso, o fim é o absurdo incontornável, que torna tudo sem sentido, que tira o propósito de qualquer projeto.
Bem, uma terceira via seria simplesmente não pensar nisso. Ignorar a ideia do fim – ou o quão distante ou perto você está dele hoje. Ou ainda: acreditar que a morte não existe – o tipo de consolo oferecido pelas religiões.
Acho que estou no primeiro time. A morte sempre funcionou para mim como um estímulo para dirigir vida afora com o pé no fundo. Sempre soube que meu tempo era curto. E nunca deixei que esse assombro me paralisasse – ao contrário, havia muita coisa que eu queria fazer, então sabia que era preciso correr.
Acabo de passar pela metade da vida. Numa imagem futebolística, diria que estou jogando, nesse momento, aos 10 minutos do segundo tempo de uma partida sem prorrogação nem pênaltis. Quando o cronômetro chegar aos 45, se tudo der certo, terei mais alguns minutos de acréscimo, com possibilidade talvez até de um último gol, se ainda tiver saúde para tentar um arremate.
E então soará o apito e as luzes serão desligadas e o estádio (que nunca recebeu grande público e que estará provavelmente vazio) desaparecerá da face da Terra, comigo dentro, instantaneamente. Tchau. Ponto final. Silêncio. Vazio. Oblívio.
À medida que passo pela meia-idade – ano que vem faço 50 – e avanço em direção à maturidade, é curioso perceber como o longo prazo vai se tornando mais curto. Você passa a ter mais tempo atrás de si do que à sua frente. Você está mais perto do fim da vida do que do começo.
Há cada vez menos espaço para pensar o que eu posso fazer da vida, para sonhar com quem eu posso ser na vida. Eu já tomei as grandes decisões sobre o que fazer da vida. Eu já encaminhei aquilo que tive condições de ser na vida. Não há mais muito tempo nem energia para novos planos e voos. Os caminhos já estão grandemente definidos.
Esse é um aspecto assustador da maturidade: a redução do espaço do sonho, o cardápio mais estreito das fantasias – elas que já representaram um vasto menu de grandes opções. As realizações (conquistas que obviamente me inspiram orgulho e gratidão) tiram naturalmente o espaço das possibilidades. Então há menos inventividade à frente, e mais manutenção.
Ser jovem é ter feito pouco, é ter ainda tudo por fazer diante de si. Ser velho é já ter feito um bocado, e não ter muito mais o que fazer, ou não reunir mais as condições para seguir fazendo. (E eu sinto mais o peso do mundo hoje, entrando na condição de um velho que já resolveu um bocado de questões, do que há 30 anos, como um jovem que ainda tinha tudo a resolver.)
Por tudo isso, é comum imaginarmos que a crescente proximidade da morte seja uma péssima notícia, prenhe de sentimentos ruins. Preciso dizer que não é bem assim. Ou, ao menos, não é apenas isso.
Ingressar no outono da vida também traz boas sensações. Ter menos tempo à frente, por exemplo, reduz a ansiedade do porvir. Antes de matar o presente, a morte mata o futuro. E o futuro é o grande desconhecido, o pai da ansiedade, onde mora grande parte do medo de viver. Então, a morte resolve o longo prazo, esse torvelinho indecifrável, esse enorme bicho papão.
Tem uma hora em que você não se preocupa mais com o amanhã, porque ele não é mais um ativo do qual você precise cuidar, no qual você precise investir. Ao erodir o futuro, a morte faz o imenso favor de trazer nossa atenção para o presente. E de sublinhar que só nos resta a réstia do dia, e que o presente é o nosso único banquete. A morte nos faz valorizar o hoje. E é assim que ela nos ajuda a viver mais e melhor.
Isso pode representar uma alforria para os controladores, aquele tipo de ansioso que não descansa enquanto não arrumar todas as suas gavetas – o que, diga-se, é sempre uma ilusão. A morte nos deixa ver que não controlamos nada. Não sabemos nem mesmo quando ou como nossa própria existência vai acabar. Então, de novo, só nos resta relaxar e viver bem o tempo que nos couber, qualquer que seja ele.
Claro, há a ansiedade da finitude. A tristeza de ter que ir embora. Claro, há a melancolia de lembrar de tudo que ficou para trás. De tudo que você fez – ou que não fez e poderia ter feito. De todas as versões de você que você não foi e poderia ter sido.
Mas a morte não implica necessariamente medo, perda ou dor. Essas são coisas que pesam sobre quem está vivo, não sobre quem morre naturalmente. O fim também pode significar alívio, descanso e solução. E trazer a sensação reconfortante de que tudo tem seu lugar e de que tudo tem o seu tempo. E de que existe o momento de chegar, o momento de acontecer e o momento de partir. E de que o "para sempre" é um fardo pesado demais.
Sim, a angústia da morte existe. Mas ela não é mais espinhosa do que a angústia de estar vivo. É preciso aprender a viver (e a morrer). E então seguir em frente.
Adriano Silva é jornalista e empreendedor, CEO & Fundador da The Factory e Publisher do Projeto Draft e do Draft Canada. Autor de nove livros, entre eles a série O Executivo Sincero, Treze Meses Dentro da TV e A República dos Editores. Foi Diretor de Redação da Superinteressante e Chefe de Redação do Fantástico, na TV Globo.








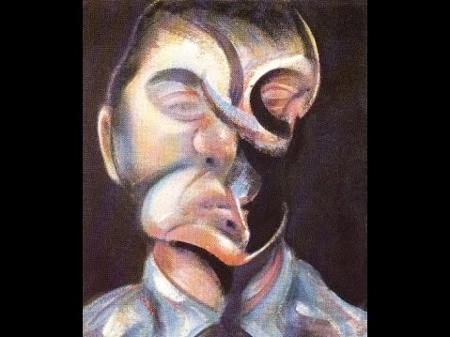




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.