Por que a indústria de músicas lentas fechou as portas no mundo
As músicas feitas para dançar juntinho, de rosto colado, acabaram porque ninguém mais precisa desse subterfúgio para ter um contato com o sexo oposto. Ninguém precisa mais rodar no escurinho da sala, ao som de uma canção doce e doída, como Lost Without Your Love, do Bread, ou You're Too Far Away, de David Castle, para sentir pela primeira vez o perfume ou a maciez da pele ou a delicadeza do toque de uma mulher. (Falo da minha perspectiva. Adapte para a sua.)
De fato, nem existe mais sexo "oposto". Os bailinhos pertenciam a um mundo reduzido a dois gêneros. Meninos de um lado do salão ou da garagem. Meninas do outro. Meninos tinham que atravessar aquele corredor polonês de olhares e comentários e risadinhas para tirar uma menina para dançar. Meninas tinham que esperar do outro lado, para serem tiradas. Suas ferramentas eram os sinais que enviavam para que o menino certo viesse lhe tirar. E tinham como únicas armas a seu dispor justamente os olhares, os comentários e as risadinhas.
Hoje há 32 gêneros possíveis. E amanhã haverá 33. Ninguém precisa mais esperar para ser escolhido por alguém. Cada um tem o direito de escolher – inclusive não tomar iniciativa alguma. Todos podem tudo. O que é ótimo.
Os garotos e as garotas – ou xs garotxs – de hoje podem iniciar sua vida amorosa com outros ritos, com menos metáforas e simbologias, indo talvez mais direto ao ponto, em interações mais denotativas e menos românticas. A corte mudou muito. E, ao que parece, para melhor.
O beijo era uma construção. Havia etapas. Mão no cabelo. Um abraço mais apertado. Um cheiro no pescoço. Se todo esse percurso fosse vencido sem obstáculos, o momentum do beijo estava maduro. Hoje o beijo é uma banalidade. Um cartão de visitas.
Minha geração inventou a ficada – o beijo que não implicava namoro. Era one night stand com aquela pessoa e boa. Hoje o beijo se desconectou da ficada – o menino ou a menina beija várias pessoas na mesma noite. É uma versão one night stand coletiva, meio bacante.
Ou seja: as músicas lentas acabaram porque o mundo está menos romântico – no sentido estético, de linguagem e de construção das liturgias. As narrativas estão menos piegas. Menos edulcoradas. Não tem mais essa de mocinhos impávidos vestidos de azul encostados numa parede e mocinhas feéricas vestidas de rosa sentadinhas no sofá. (Exceto em alguns Ministérios em Brasília.)
Então nenhum garoto ou garota precisa entrar na onda de uma canção que fala de amor sob uma ótica de dor, entrega, abandono, angústia, promessas eternas e profunda autocomiseração para curtir o amor, quando na realidade não está sentindo nenhuma dessas emoções grandiloquentes. E, ao contrário, está numa boa, alegre, feliz, querendo declarar sua paixão e vivê-la de modo leve, aberto, sem grilos. Parece um cenário bem mais saudável.
Claro que continua sendo uma barra entrar na puberdade e se ver jogado numa nova arena, a adolescência, com uma nova identidade, que não é mais a infantil, tendo de lidar com mudanças no próprio corpo, com seu novo lugar no mundo e também com vários sentimentos inéditos e conflitantes a respeito de si mesmo e dos outros.
Os afetos nessa idade se alteram debaixo de um bombardeio ininterrupto de hormônios. E não é fácil se sentir atraído por alguém, ou se ver na posição de estar atraindo alguém. Nem lidar com o desejo e com a rejeição, com a paixão e com o medo, com o amor e com a frustração – tudo sendo vivido ali pela primeira vez, sem parâmetro prévio, de modo hiperbólico.
No entanto, as saídas parecem ser outras. E uma melodia mela-cueca não funciona mais como antes. Não oferece mais a mesma guarida. Nem mesmo para os momentos de lembrar do outro, ou de sentir a ausência do outro. Os códigos do namoro são outros. A cultura em torno das relações amorosas evoluiu.
As músicas românticas continham exageros que eram permitidos, estimulados, que faziam parte das nossas vidas – e que hoje soam cafonas. Ou seja: o mundo está menos romântico também por esse aspecto – tudo está mais ao alcance, a conversa está mais aberta e objetiva, a informação está mais próxima e transparente.
Os valores se alteraram. De um lado, a atitude é mais blasé. A molecada busca se posicionar de modo mais independente e autossuficiente. (E essa postura yeah, whatever funciona também como uma proteção: se eu me mantenho alheio, à distância, tenho menos chances de sofrer do que se eu pular de cabeça na fogueira das paixões.)
A regra é não mostrar os próprios sentimentos. É se esconder atrás da tela do celular e do perfil da rede social. Estamos ultraconectados – mas distantes da verdade intrínseca uns dos outros. Distantes, em certo sentido, da nossa própria essência.
Cada um de nós é uma persona descolada, um avatar sempre de bem com a vida, um emoticon eternamente irônico e simpático. Por trás dessa couraça digital, desse papel que desempenhamos virtualmente, nos sentimos protegidos. Não deixamos que os outros saibam – de verdade – quem somos.
(Talvez a esses meninos de hoje, muito mais bem resolvidos, para vários assuntos, do que os meninos da minha geração, fosse insuportável atravessar aquele salão, em 1982, enquanto começava a tocar Classic, do Adrian Gurvitz, na vitrola, e convidar, de viva voz e de corpo presente, a menina dos sonhos para dançar juntinho, diante de todo mundo, por inesquecíveis 3 minutos e meio.)
De outro lado, o comportamento não é mais de culto à fossa. A turma agora é hedonista. Só quer saber de sorrir. Se nos anos 50 e 60 a canção de amor era uma projeção superlativa daquilo que não se podia viver na realidade, e nos anos 70 e 80 era charmoso ser triste, e sofrer em público, dos anos 90 para cá, com especial ênfase nos anos 2000, tudo isso perdeu o sentido.
Ninguém precisa mais sonhar, confinado ao cárcere familiar, com um grande amor – todos têm permissão para vivê-lo. Muitas vezes no seu próprio quarto, sobre a sua cama, dentro da casa da família. E o ar tristonho e deprimido deixou de ser cool – o espírito taciturno se traduz apenas em uma nuvem negra particular da qual a maioria das outras pessoas tentará se afastar.
Pense na música eletrônica, na batida techno, acid, trance – trata-se do culto à alegria, da celebração da vida a qualquer custo, mesmo (ou principalmente) quando você está macambúzio, mais propenso à introspecção.
O próprio termo balada, que significava música lenta, canção romântica, faixa para dançar junto, ganhou outro sentido e virou sinônimo de festa, de night, de programa.
Enfim: não há mais condições de mercado, não existe mais demanda no mundo, para o surgimento de gênios como Peter Cetera ou Barry Manilow. Nem para crooners como Kenny Rogers ou bandas como Air Supply. Nem para pérolas como Take Me Now, de David Gates, ou Living Inside Myself, de Gino Vannelli.
Quem viveu, viveu. (E eu sou feliz por ter vivido.)
Adriano Silva é jornalista e empreendedor, CEO & Founder da The Factory e Publisher do Projeto Draft e do Draft Canada. Autor de nove livros, entre eles a série O Executivo Sincero, Treze Meses Dentro da TV e A República dos Editores. Foi Diretor de Redação da Superinteressante e Chefe de Redação do Fantástico, na TV Globo.

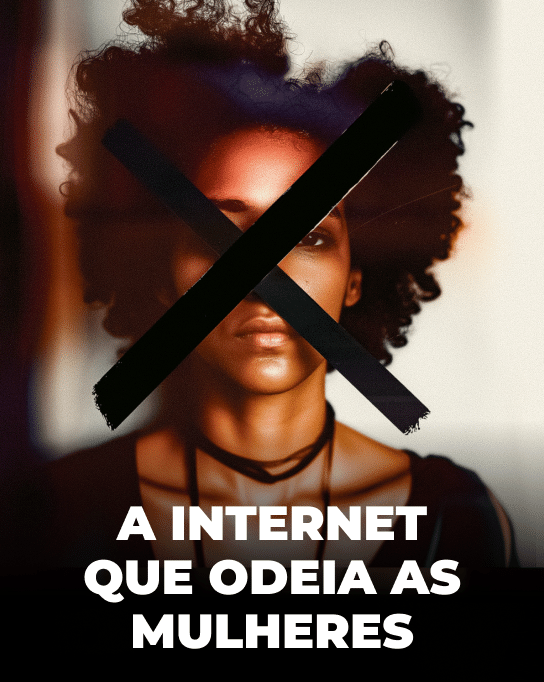







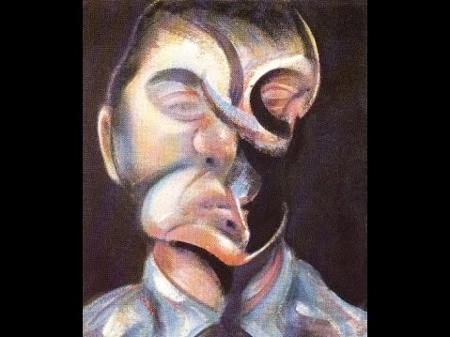




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.