O ativismo suave de Capitã Marvel é uma disrupção de proporções épicas
Não tome isso como um spoiler, porque não é, mas o que eu achei mais legal em Capitã Marvel, a mais nova superprodução da Marvel, é a releitura dos Krees e dos Skrulls.
Como você sabe, os Krees são uma raça de heróis: brancos, caucasianos, de olhos claros. E o Skrulls, seus arquiinimigos, são uma sub-raça, feita de seres dissonantes do padrão de beleza que aqui na Terra costumamos associar aos europeus e aos americanos do norte.
Os Krees são uma representação dos WASPs, que é como os Estados Unidos se enxergam no espelho. Já os Skrulls são gente de cor. (No caso, verde). Gente que não tem a pele boa. E que, por isso, é retratada como vilã, como um povo ruim, que vive de fazer o mal.
Pense na clássica dicotomia que opõe Elfos e Orcs, no mundo de Tolkien. Ou nos (deuses) Asgardianos e nos (demônios) Trolls, no universo de Odin e de Thor. É sempre assim. Os diferentes de nós (ou daquilo que gostaríamos de ser) são sempre disformes (as narrativas de segregação são sempre construídas de modo desrespeitoso com o outro e, ao mesmo tempo, autoelogioso em relação a nós mesmos ou ao padrão de beleza que elegemos). Os outros são sempre a ameaça e a aberração. Tudo que não é "nós" é pintado como feio e mau.
É curioso também como, em quase todas essas mitologias, a ameaça vem de baixo. Ou, se você preferir, do sul. O underworld, amigo, no inconsciente coletivo desse planeta, somos nós: os latinos, os africanos, os asiáticos subequatoriais. Gente parda, gente crespa.
O desassossego ariano vem de um alçapão que se abre debaixo dos seus pés civilizados, de onde sempre brota gente atarracada, de nariz largo e lábios grossos. Gente hirsuta, munida de força bruta, de emoções indômitas – e desprovida de inteligência e de elegância. Enfim: gente que traz em si o caos e que precisa ser esmagada e jogada de volta ao porão de onde veio.
A Capitã Marvel é Kree. O personagem, criado por Stan Lee e Gene Colan em 1967, era originalmente um homem – de nome Mar-Vell. Carol Danvers, a heroína que você verá no filme, surgiria nos quadrinhos no ano seguinte, como Miss Marvel – o contraponto feminino do herói, uma humana contaminada pelos poderes Kree, criada por Roy Thomas e Gene Colan.
Mais tarde, com a morte de Mar-Vell (que teve sua fase mais vibrante com roteiros de Chris Claremont e desenhos de Jim Starlin), Carol assumiu o posto de Capitã Marvel. Nada de miss, nem de ser o contraponto de saias de quem quer que seja. (O filme adapta um pouco esse enredo, mas o resultado na tela é bastante aceitável.)
O filme, portanto, co-dirigido por uma mulher, que estreou mundialmente em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tem na afirmação feminina seu primeiro gesto político. Que funciona superbem – a atriz Brie Larson interpreta uma heroína que parece construída desde uma perspectiva feminina, de girl power, e não a partir de uma visão masculina do que uma heroína loira e peituda, num uniforme colado ao corpo, deveria ser.
A Capitã Marvel é loira e peituda e usa roupas justas de um jeito que se poderia chamar de feminista. E o faz de um jeito leve, num ativismo suavemente disperso pelos fundamentos do filme, que não precisa ficar gritando isso a todo momento, de modo agressivo, em primeiro plano. Ou seja: o filme é feminino até mesmo na hora de operar, de modo sutil e envolvente, o seu feminismo.
No entanto, a grande tacada política de Capitã Marvel, a meu ver, foi questionar a narrativa opressora que sempre concedeu aos Krees a confortável posição de serem o poder instituído – e ainda assim serem os herois. E que sempre trancafiou os Skrulls – além de serem a minoria discriminada, os excluídos pelo sistema – à condição de bandidos.
A Capitã Marvel toma essa iniciativa inédita de olhar para os Skrulls de um outro jeito, de oferecer a eles um olhar empático, de entender que dos dois lados da guerra há motivações e pecados, de que os nossos heróis também cometem crimes e de que os nossos inimigos também podem ser vítimas das nossas ações. (O filme verbaliza isso: a única ação honrada numa guerra é tentar acabar com a guerra.)
Essa inflexão é inédita e revolucionária em narrativas de herói. Ao questionar o fato de os nossos guerreiros serem cegamente celebrados e de os guerreiros dos outros serem sempre descartados como terroristas, assassinos e mercenários, Capitã Marvel rompe com o cânone da Marvel, e também com uma tradição histórica e milenar de fabular os conflitos recobrindo as mortes e a destruição causadas pelo nosso exército com honra e dignidade e apresentando as mortes e o sofrimento impostos pelo outro lado como atos bárbaros de ignomínia imperdoável.
Capitã Marvel rompe com essa velha dicotomia, tão ingênua quanto mal-intencionada, de dividir o mundo entre good guys e bad guys. Essa fórmula fácil e rápida, que esconde capciosamente um milhão de tons de chumbo e de sangue, não encerra apenas uma visão de mundo juvenil, própria das histórias em quadrinhos para crianças e adolescentes, mas expõe também uma visão de mundo que está entranhada nos bolsões mais conservadores, e poderosos, do mundo em que vivemos hoje. De Washington a Brasília.
Capitã Marvel questiona os impérios que oprimem. E se solidariza com povos que são dizimados, sem terem sequer um pedaço de terra para chamar de seu. Tocar nesse assunto é uma disrupção. E assumir o lado dos despossuídos, dos degredados, dos agredidos, dos invadidos, num blockbuster espalhado pelas matinês do planeta, faz com que essa disrupção assuma proporções cósmicas. (Se em Pantera Negra Wakanda era uma versão sugerida, idealizada, desejada dos Estados Unidos, Capitã Marvel é uma autocrítica radical: os Skrulls são os curdos, são os palestinos, são os tutsis. São os pobres e os pretos e as fêmeas em um mundo patriarcal que venera olhos azuis.)
O discurso político costuma ser uma coisa chata, capaz de estragar qualquer coisa – em especial um filme de entretenimento. Não é, felizmente, o que acontece em Capitã Marvel. Uma prova superbacana de que não é preciso deixar o cérebro em casa para ir ao cinema abraçar um balde de pipoca.


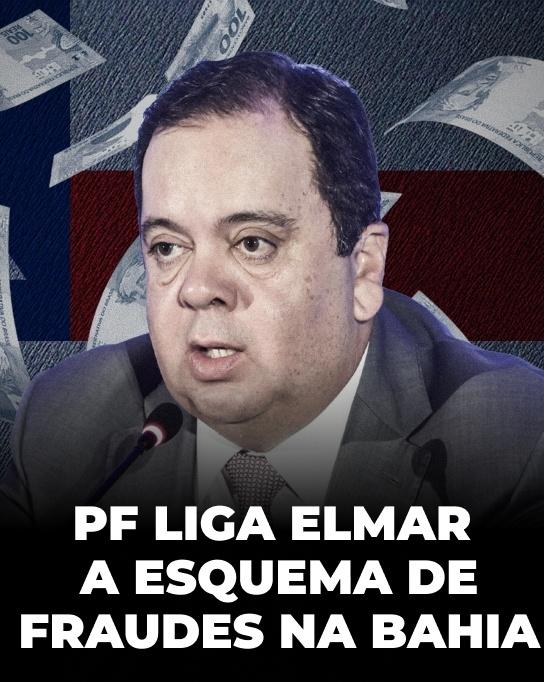






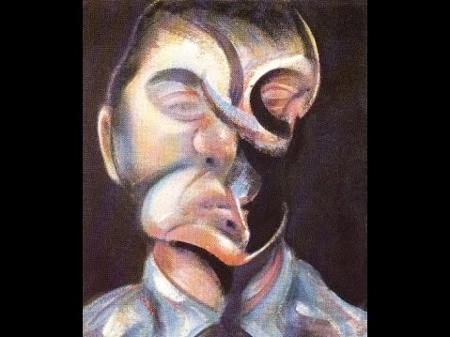




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.