Por que amamos o conceito de camarote – e o que isso diz sobre nós
Poucas coisas nos definem tão bem, como brasileiros, quanto o camarote.
O camarote significa. Muito.
O camarote está cravado no nosso imaginário popular.
A começar pelos disputados camarotes da Sapucaí. Ali, os famosos podiam desfilar, para os fotógrafos, enquanto assistiam ao desfile carnavalesco, devidamente protegidos da horda.
Era a corte inatingível, no beiral do castelo dos nossos sonhos, mandando beijinhos à plebe – os famosos muitas vezes atraíam a atenção das arquibancadas mais do que o próprio desfile, e viravam a atração principal, sendo saudados pelos próprios integrantes das escolas de samba, que deveriam não apenas ser os protagonistas da noite, mas também se concentrar na apresentação que estavam realizando ali, valendo pontos.
Você era levado e trazido do Sambódromo em micro-ônibus, a partir de um ponto-de-encontro – uma churrascaria em que comes e bebes já estavam à disposição. Uma vez no camarote, o boca-livre seguia na forma de um buffet permanente – regado a muito chope.
A experiência era toda isolada da rua, da dimensão dos comuns, como se ali respirássemos um ar diferente, em que se via tudo por trás de vidros escuros, com a aura da vida vivida dentro de vans, atrás das linhas de seguranças, em ambientes "VIP".
Aos não-famosos, como eu – tive a chance de ir a um desses camarotes um par de vezes –, havia o fascínio da proximidade com artistas, atletas, modelos, gente conhecida, ídolos de várias tribos. E de sentir o gosto daquela experiência de privilégio e exclusividade.
O camarote representava uma fábula de mordomia e de fartura que também não seria a realidade diária da maioria das celebridades e sub-celebridades presentes. A fama é traiçoeira e nem sempre coincide com dinheiro no banco e geladeira cheia. Então aquela imersão em comidas e bebidas, flashes e sentimentos de auto-importância era um convite à fantasia de quase todos ali.
O camarote, em certo sentido, era a versão física das revistas de fotos e fofocas. A materialização do nosso culto à fama – chegamos ao paroxismo de ter gente que é famosa apenas por ser famosa. Ou seja: não há nada por baixo do verniz midiático. Como a pessoa aparece em muitos lugares, ela continua sendo colocada sob os holofotes, sem que ninguém saiba explicar bem por quê.
O conceito de camarote ganhou o país. A lógica, reproduzida em todo lugar, é da segregação. Os camarotes, em eventos de Norte a Sul, carregam uma lógica de exclusão – eu posso, você não; eu tenho acesso, você fica de fora; eu sou convidado, você está excluído; eu sou cidadão de bem, você é zé-povinho.
O camarote não tem a ver com o melhor lugar para você acompanhar um evento, como nos mezaninos dos velhos teatros. Na maioria das vezes, é o contrário. O camarote é o melhor lugar para você ser visto em um evento.
Com a palavra, o "Rei do Camarote", Alexander de Almeida, conforme ele pontificou em seu famoso vídeo de 2013: "Quando a pessoa está na pista, ela é mais um. Agora, quando está no camarote, ela acaba ficando em evidência. Porque o camarote é uma questão de status, uma coisa que todo mundo quer".
Numa sociedade de castas como a nossa, em que é cada um por si e o pertencimento é sobretudo uma conquista econômica, ter o nome na lista é um reconhecimento social, uma piscadela que você recebe dos donos da bola e do campinho.
Eis a lógica do camarote: a vontade de fazer parte da patota, de ser considerado insider — desde um crachá de Bozó na iniciativa privada até uma teta num governo qualquer. É um sonho brasileiro: o desejo de ter privilégios e de exercer prerrogativas (nem sempre devidas, e muitas vezes francamente descabidas), isolando-se da malta.
Numa sociedade baseada na exclusão, nós fazemos de tudo para ficarmos em cima da peneira. Num país fendido entre abastados e despossuídos, nós fazemos de tudo para não parecermos pobres.
O Brasil é o único país do mundo em que pobre é um xingamento.
Caco Antibes, personagem vivido por Miguel Falabella em Sai de Baixo, verbalizava esse sentimento discriminatório, frívolo e covarde que forja a alma brasileira – e nós nos deleitávamos em família com as barbaridades que Caco Antibes escoava todo domingo à noite.
(Outro anti-herói que se notabilizou por enunciar as grosserias e ofensas e despautérios que o brasileiro médio sempre pensou, mas jamais ousou dizer, foi, exatamente por isso, eleito à condição de "mito" e, moto-contínuo, guindado à cadeira de presidente da República.)
O jeito brasileiro de vencer na vida é individual. Trata-se, exatamente, de ser aceito no camarote. Não buscamos melhorar a vida no Brasil, buscamos melhorar a nossa vida. Não queremos construir uma nação, queremos construir nosso patrimônio pessoal.
A gente nunca se preocupou em colocar cadeiras em todo o estádio – a gente só queria poder sentar a própria bunda nas cadeiras. E a bunda dos outros que se esfolasse no cimento cru. É mais do que indiferença, é exclusão planejada – afinal, se todos pudessem sentar nas cadeiras, que graça haveria em ter acesso a elas? (Todo mundo sentado no estádio foi uma imposição estrangeira recente, nunca foi uma decisão brasileira.)
A exclusividade requer escassez. E escassez significa privilégio, de um lado, e falta, de outro. Exclusividade implica exclusão. Ponto.
O mesmo raciocínio ampara nosso pensamento em relação ao transporte público no Brasil. O sonho do brasileiro não é ter um bom metrô que o deixe na porta do trabalho em 20 minutos. Nosso sonho é ter um carro particular, ainda que mofemos 2 horas dentro dele para realizar o mesmo percurso.
Tudo o que funcionar para os outros também, não serve. Isso acaba com o conceito o camarote. E é coisa de comunista.
Herança da escravatura, mentalidade que ainda não conseguimos superar, estamos organizados em senhores feudais, escravos e feitores. Não queremos acabar com a escravidão, jamais tivemos esse interesse. O que queremos é ser vistos como "brancos", de modo a podermos frequentar a Casa Grande.
A Casa Grande foi o nosso primeiro camarote.
Mesmo que não sejamos os donos das terras, mesmo que venhamos a ser apenas os feitores que garantem a ordem vigente, e que comem na cozinha. O importante é não sermos confundidos com os miseráveis, é sentirmos que não estamos navegando na nau dos deserdados.
Nada nos dá mais prazer do que o olhar bovino da Senzala em direção à Torre de Marfim. A gente dá um dedo para estar lá dentro.
A escola particular das crianças é camarote. O plano de saúde privado é camarote. O condomínio com seguranças armados é camarote. O SUV que queima um litro de gasolina para andar quatro quilômetros é camarote.
O camarote espelha outro aspecto de nossa herança coronelista: o desejo de sermos servidos. O "Rei do Camarote", outra vez, nos ilumina: "No camarote, sempre há pessoas que servem a mim e a meus convidados. Já na pista você não tem todo esse luxo, esse glamour".
Trata-se do velho ideal brasileiro – herdado, talvez, dos modos lusitanos de 200 anos atrás – de não trabalhar. Ter que trabalhar, entre nós, especialmente em serviços manuais e domésticos, ainda é uma ideia bastante ofensiva.
A gente tem uma vaga admiração por gente "trabalhadora" – mas nossa fantasia íntima é ganhar na loteria, ou achar alguém que nos sustente, e vadiar pelo resto da vida.
Trata-se de um vício nacional: ter alguém que realize as tarefas para a gente. Alguém que cuide das nossas casas, limpe nossos banheiros e lave nossas roupas. Tratamos isso como um pré-requisito de dignidade. Quem passa as próprias camisas ou escova o próprio vaso sanitário é visto como alguém que está na pior.
Ou seja: não há brasileiro respeitável, em pleno século 21, sem um criado a tiracolo.
Por isso consideramos garçons, motoristas, eletricistas, encanadores, jardineiros etc como subalternos – e não como meros prestadores de serviço. Falamos com "essa gente" de modo diferente de como falamos com os pares em nosso círculo social.
Por isso temos empregadas dentro de nossas casas arrumando nossas camas, cozinhando e tirando o pó para nós – funções que a maioria das pessoas nos países ricos realiza pessoalmente.
Por isso temos ascensoristas. Porteiros. Manobristas. Gente ao lado das catracas nos ajudando a encostar o crachá no sensor. É o custo da criadagem no Brasil – sem a qual os sinhozinhos não conseguiriam viver.
Por isso a penetração do lava-louças no Brasil é de menos que 5% dos lares – enquanto em países como o Canadá, por exemplo, esse eletrodoméstico já vem instalado na cozinha quando você compra ou aluga uma casa. Nós temos mucamas. Nós adoramos ter mucamas.
O camarote embute ainda uma lógica de ostentação. Numa sociedade mais equilibrada, menos desigual, o acesso às suas comidas e bebidas prediletas é fato corriqueiro para a maioria da população. Então não há o fetiche das cascatas de camarão ou de tomar champanhe na garrafa, ao invés da taça.
Invoquemos outra vez a lembrança do "Rei do Camarote". Ele alegava gastar entre 5 e 70 mil reais na balada (em valores de 2013) e dava sugestões de como "agregar valor ao camarote": vestir roupas de grife, chegar na festa com supercarro, se cercar de gente famosa.
Essa celebração da abundância, essa ode ao desperdício, é coisa de ambientes subdesenvolvidos, marcados pela falta. Em lugares mais civilizados, isso é jeca. Como a fartura é um item do dia a dia, que funciona para quase todo mundo, não faz sentido celebrá-la em rituais pantagruélicos: os convescotes, ao contrário, são geralmente moderados.
Em lugares marcados por mais igualdade entre as pessoas, também há mais comedimento nesse movimento de esfregar as suas posses e conquistas na cara dos demais. A intenção de humilhar os outros em nome da sua autocongratulação seria vista apenas como falha de caráter. Coisa de cuzão.
Por fim, o camarote também fala com o gosto nacional por levar alguma vantagem, qualquer que seja ela – sempre sobre os outros, claro. (Só existe vantagem quando outra pessoa fica em desvantagem.)
Levar um boizinho. Ganhar algo de graça. Na faixa. Na vasca. Uma mamata. Um bonde. Um brinde. Uma miçanga. Um espelhinho. Um cupom. Uma amostra grátis. Uma degustação – até do que não gostamos.
Aí a gente adora. Aí a gente se sente o máximo.
Adriano Silva é jornalista e empreendedor, CEO & Fundador da The Factory e Publisher do Projeto Draft e do Draft Canada. Autor de nove livros, entre eles a série O Executivo Sincero, Treze Meses Dentro da TV e A República dos Editores. Foi Diretor de Redação da Superinteressante e Chefe de Redação do Fantástico, na TV Globo.

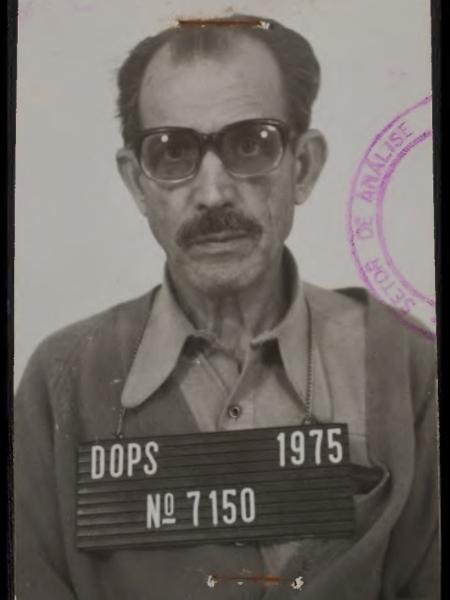






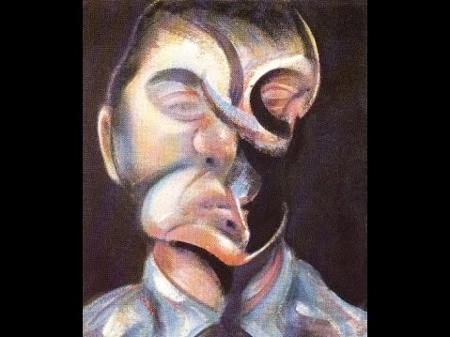




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.