Muito obrigado por tudo, São Paulo
Cheguei em São Paulo em maio de 1998. Debaixo de um agradável sol de outono. O clima em São Paulo é ameno. E produz dias perfeitos nas meias estações.
A gente esquece que São Paulo fica na montanha. A 760 metros do nível do mar. São Paulo tem concreto, mas também tem réstias de Mata Atlântica. São Paulo tem gás carbônico, tem ar sujo, mas também tem brisa prazenteira e passarinho cantando perto da janela.
Em São Paulo a gente vira as costas para os rios, para a natureza, mas as chuvas e as secas nos lembram rapidinho de que a vida na metrópole depende bastante de construirmos uma relação sustentável e respeitosa com os recursos naturais.
São Paulo tem muito carro, mas também tem muita gente. Em São Paulo a gente vira as costas para um bocado de gente, em especial àqueles indivíduos que consideramos diferentes de nós. Somos brasileiros, vivemos num sistema social fendido em entre os que têm, e vivem como patrões, e os que não têm, e vivem como criados. Como não poderia deixar de ser, há pouca solidariedade e muita desconfiança, quando não hostilidade, entre essas duas castas.
Volta e meia uma atitude humana nos arrebata, pela força ou pela beleza, vinda dos outros ou de nós mesmos, e nos lembramos de que somos gente também. E de que os outros, que vivem do lado de lá da cerca de arame farpado, também são gente. Ou então nos sentimos também agredidos e injustiçados diante das agressões e injustiças que tantos brasileiros sofrem em seu próprio país.
E por um átimo passa pela nossa cabeça, e pelo nosso coração, a ideia de que o Brasil seria um lugar muito melhor se nos víssemos como iguais compartilhando um mesmo pedaço de chão (um dos melhores à disposição no globo, diga-se), e se distribuíssemos os mesmos direitos e as mesmas obrigações de modo balanceado pela sociedade.
Em seguida, um interesse pessoal qualquer nos puxa de volta à redoma do individualismo e abandonamos a ideia de equilíbrio e de justiça. Implodimos, em nome do nosso egoísmo pátrio, visceral, atávico, as condições de uma convivência pacífica. E voltamos a apostar na corrida de bigas, de estilo "resta-um", em que para você vencer os demais têm que perder, e em que o ganhador chega estropiado e sem condições de curtir a sua vitória – inclusive porque tudo ao redor foi destruído ao longo da jornada que o tornou vencedor.
Eu tinha 27 anos quando cheguei a São Paulo, depois de três anos estudando no exterior, para ocupar um cargo de diretor numa grande empresa. Talvez por isso, por chegar em São Paulo frequentando a classe média alta, sempre achei que a cidade me recebeu muito bem.
Ou talvez São Paulo seja uma cidade de portas abertas. (Esse é o meu sentimento.) Uma cidade forjada na chegada de gente, que ainda não deixou de acreditar que, se todo mundo veio de fora, então ninguém é estrangeiro.
São Paulo é a única cidade verdadeiramente cosmopolita do Brasil. Você é paulistano se mora, trabalha, estuda e paga seus impostos aqui – pouco importa onde você nasceu.
Ser paulistano é estar em São Paulo e contribuir com São Paulo – um bocado como ser New Yorker ou Torontonean. Que outra cidade brasileira pode dizer isso de si mesma?
Morei, ao chegar, num apart-hotel em Higienópolis. Experimentei a sensação de aridez e de solidão ao subir a Rebouças, e depois a Consolação, vendo a grande noite ocre cair sobre os viadutos e corredores de ônibus de São Paulo. Não conhecia o lugar, tinha como companhia só as músicas que tocavam no rádio do carro. São Paulo, paraíso das pizzarias, das padarias, dos botecos. São Paulo, que à noite é um grande downtown, deserto e ameaçador.
Logo em seguida, morei na Rua Bergamota, no Alto de Pinheiros. (Uma referência mágica, e totalmente não-intencional, ao fato de eu ser gaúcho.) Um lugar bonito, de onde se podia enxergar boa parte da volta da ferradura composta pelos rios Pinheiros e Tietê. De onde também emanava uma certa tristeza que São Paulo guarda, especialmente ao entardecer, quando se acendem as luzes amarelas nas ruas sem calçada das periferias, ou quando se acendem as luzes brancas dentro dos sobrados gradeados nos bairros afastados.
Quase dava para ouvir, do vigésimo andar do meu condomínio bacana, no final de domingo, até onde a vista alcançava, a revolta silenciosa, compensada com a ingestão de carboidratos baratos, ecoando muda, como um lamento entorpecido, pelos vastos arrabaldes paulistanos.
Naquele apartamento confortável, me percebi, pela primeira vez na vida, vivendo com alguma sobra. Dirigia um bom carro, frequentava restaurantes, experimentava o conforto de ter a geladeira cheia. Já não precisava olhar para o preço das coisas que comprava. Vivi ali uma breve vida yuppie em São Paulo. Os anos 90 terminavam e eu era um jovem profissional urbano sem filhos, com uma carreira promissora pela frente. Gostava de ir ao Bargaço, ao Consulado Mineiro, à Dona Deôla.
Havia um certo estilo de vida que dava cara àquele naco da capital, mais ou menos situado entre Pinheiros, Vila Madalena, Sumaré, Pompeia. Ainda não era a vibe da turma digital, vegana, biker, ativista, feminista, LGBT da Nova Economia. Ainda não eram os hipsters – os Milennials, ou Geração Y, ainda estavam em casa jogando Game Boy e espremendo espinhas.
O clima era mais boêmio. O pessoal bebia e fumava muito (inclusive dentro dos estabelecimentos), e a cocaína ainda era uma memória recente. Restrições alimentares eram vistas como um problema, não como uma escolha, e o mundo era mais machista – o tratamento dado às mulheres e aos homossexuais era bem mais desrespeitoso do que hoje.
Aquela vibe era roqueira (o rock já tinha morrido, mas a gente ainda não sabia, ou não queria admitir), hedonista, levada a cabo por velhos hippies com vagos ideais de esquerda, e que não tinham qualquer problema em conjugar isso com um estilo de vida burguês, num mundo que era ainda lento e analógico. As bancas de revista eram um negócio tão próspero e vitalício quanto um cartório. Os celulares eram usados apenas como telefone e não havia redes sociais.
Prestes a completar 30 anos, eu vivia a alegria de trabalhar na indústria cultural, de fazer revistas, numa empresa respeitada que me oferecia um bom emprego. Em seguida, mergulhei na produção de conteúdo, assumi a condição de viver de escrever – um sonho do qual eu havia desistido cedo demais. Eu estava feliz. Me sentia livre e confiante.
Em seguida me separei, e casei de novo, tendo São Paulo como testemunha em ambos os processos. Gostava do Nagayama, do Quattrino, do Astor, do Alimentari. Na sequência, troquei de bairro – comprei o apartamento dos sonhos, no Morumbi, um dos bairros de São Paulo para onde iam os jovens casais que tinham filhos e passavam a viver em função deles. Em 2005, os gêmeos chegariam – eu, adotado por São Paulo, produzia dois novos paulistanos. Descobri o Pasta Gialla e adotei o Almanara.
Entre o final de 2006 e o começo de 2008, morei no Rio – conto essa aventura no livro Treze Meses dentro da TV. Voltava a São Paulo dez anos depois da minha primeira chegada à cidade. E São Paulo, outra vez, me acolheu. Encerrei minha carreira executiva no Rio e me tornei empreendedor nessa volta a São Paulo.
Com a Spicy Media, empresa que ajudei a fundar, trouxe o Gizmodo ao Brasil. Foi um duro recomeço profissional, uma espécie de transplante de órgãos que operei em mim mesmo, de olhos abertos, sem anestesia. Passei a frequentar a Vila Olímpia, entre 2008 e 2011, época em que o bairro era o "Vale do Silício brasileiro". As empresas digitais se apertavam ao redor da Gomes de Carvalho.
Contarei a história dessa reinvenção em Por Conta Própria – Como virei empreendedor: a história da revolução que reinventou minha carreira e minha vida, livro que encerra a trilogia "As Memórias do Primeiro Tempo" e que sai ano que vem pela Rocco.
Eu empreendia, mas no fundo me sentia desempregado. (O emprego é um paradigma difícil de superar.) Era uma época de contrição financeira, e eu almoçava por 13 reais no Kony, do outro lado da rua. A ideia que sempre fizera, nos momentos bons, de que aquele conforto iria acabar, o medo que sempre tive da precariedade das conquistas materiais, ali ressurgia de modo assustador à minha frente.
Nas quartas à noite, o comfort food da Lia Giorno, perto de casa, representava uma pequena indulgência que me permitia recarregar as baterias e então voltar à batalha, ao terreno das profundas incertezas e da ansiedade cáustica, já na manhã do dia seguinte.
A Spicy Media prosperou e, mais tarde, eu a vendi. Me tornei sócio do Clube Paineiras, onde fui aos poucos recuperando a capacidade de pagar a parte que me cabia nos almoços de domingo com a família sem sentir longos calafrios pensando quantas outras vezes eu seria capaz de arcar com aquele custo. Gostava de ir ao Outback e ao Ráscal, que havia sido um bom companheiro no Rio – até que ele, há alguns anos, passou a cobrar 75 reais pelo bufê, quando seus concorrentes ainda cobravam menos de 50, e eu, em protesto, nunca mais apareci por lá.
Mais tarde fundaria a The Factory, empresa com a qual lancei o Projeto Draft em 2014. Meus filhos cresceram, e ao longo de 12 anos eu os levei toda manhã à escola, vendo se consumar mais de uma vez, bem à minha frente, na Giovanni Gronchi, cenas de violência que poderiam estar acontecendo comigo.
Muitas vezes pensei que só por acaso aquilo ainda não tinha ocorrido conosco. E que a manutenção da minha integridade, e a dos meus filhos, era apenas uma questão de sorte, uma mera probabilidade estatística. Que pai e que mãe dormem tranquilos em São Paulo com filhos adolescentes fora de casa à noite?
E, no entanto, em mais de duas décadas, eu nunca sofri uma agressão em São Paulo. (Passei muito perto, inclusive com o que parecia ser um revólver sendo batido no vidro do meu carro, antes de eu arrancar sem me dar conta do que estava acontecendo, e de o rapaz sair correndo pelo meio dos automóveis, na avenida mais corporativa da cidade. Sim, eu poderia ter ficado por ali mesmo, no meio da tarde de um dia qualquer, com um buraco na têmpora.)
São Paulo, cidade do trabalho, das jornadas de 12 horas de labuta que adotei como padrão. (Modelo de vida que me foi muito útil, e que agora preciso desaprender urgentemente.) São Paulo feia, suja, cinza. Minha casa, lugar que escolhi para morar. Cidade onde não se enxerga o horizonte. Cidade que você não pisa, onde seus pés nunca tocam o chão, por onde você não passeia – você apenas passa por São Paulo, de carro, indo de um lugar fechado a outro. São Paulo das oportunidades, dos negócios, do crescimento profissional. E de boas mesas como a do Le Jazz, do Abraccio, do Due Cuocci. Ou do Saj, do Olive's Garden, do Ritz.
São Paulo dos amigos do trabalho, dos amigos da pelada e do chope, onde escrevi e lancei meus livros. Cidade do pior trânsito do mundo – e de motoristas desproporcionalmente cordiais. São Paulo dos melhores – e mais caros – médicos do mundo. Cidade onde comer bem é um esporte e uma terapia. Cidade em que me tornei marido da minha mulher e pai dos meus filhos – em que me tornei, grandemente, quem sou.
Obrigado, São Paulo. Por ter me estendido a sua cidadania. Por ter me dado quase tudo o que tenho. E por ter me ensinado quase tudo que sei. Muito obrigado por tudo, São Paulo. Espero ter podido retribuir um pouquinho disso tudo que recebi.
Adriano Silva é jornalista e empreendedor, CEO & Founder da The Factory e Publisher do Projeto Draft e do Draft Canada. Autor de nove livros, entre eles a série O Executivo Sincero, Treze Meses Dentro da TV e A República dos Editores. Foi Diretor de Redação da Superinteressante e Chefe de Redação do Fantástico, na TV Globo.









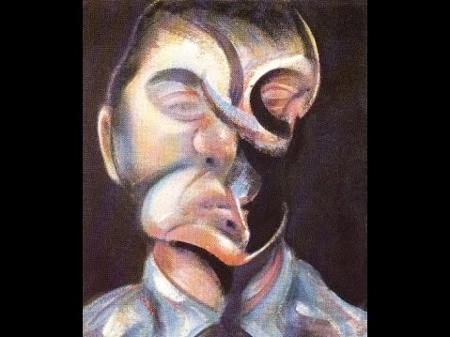




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.