Carta de amor à minha irmã que foi embora
Era 1976. Mudei para cidade nova, depois de um ano morando com meus avós, enquanto meus pais batalhavam trabalho e grana naquele miolo de década. O país crescia, mas não crescia para todos do mesmo jeito.
No ano seguinte, ingressaria na escola. Primeira série do primeiro grau. Havia feito o jardim de infância, no ano anterior, sob os cuidados dos meus avós, no rincão. Um ano frequentando à tarde o Colégio das Irmãs, a única escola particular da cidadezinha. (Há décadas as Irmãs fecharam a operação e se mandaram de lá.)
Lembro da lancheira com chá de erva doce e dos biscoitos sortidos que minha avó mandava. E do cheiro (e do gosto) do giz de cera e da massinha de modelar. O Colégio das Irmãs educava a elite da cidade, filhos de fazendeiros e mineradores. Mas eu estava lá, filho e neto do êxodo rural dos anos 50 e 60, em meio aos bezerros bem nutridos e às reluzentes jazidas de cobre daquele país que ia para frente.
A família sempre investiu em mim – imagino que fosse puxado para eles. Ninguém ali ganhava mais do que três ou quatro salários mínimos. Havia grandes expectativas a meu respeito. (Eu nunca me livrei dessas expectativas, eu incorporei essas expectativas, a elas acrescentei meus próprios desejos, e tudo isso é o que me trouxe até aqui, muito longe daquele mundo em que nasci.)
No início de 1976 estaríamos novamente juntos. Não mais uma família espalhada por três cidades. Não mais uma casinha na Cohab nem quartos de pensão. Agora dividiríamos um apartamento de dois quartos. Um BNH num bairro bem localizado na cidade universitária. Perto da escola onde eu estudaria. (Outra vez um Colégio das Irmãs – agora, palotinas.)
Começamos a vida nova e Teleca veio morar conosco. Teleca era irmã caçula de meu pai, quase dezenove anos mais nova que ele. (Minha avó paterna teve 11 filhos.) Teleca era apenas oito anos mais velha que eu. Então ela era, ao menos para mim, muito mais minha irmã mais velha do que minha tia mais nova.
Minha avó paterna, a quem não conheci, morreu muito cedo, aos 48 anos – minha idade hoje, ao escrever essas linhas. Um câncer no ventre – a morte chegou para Donatila, ironicamente, onde ela tanta vida gerou.
Teleca ficou órfã ainda muito pequena. Meu avô paterno decidiu ficar no campo, mudou-se para outra querência, casou de novo, constituiu outra família. O velho Acelino não conhecia outra vida que não plantar arroz arrendando a terra dos outros. E Teleca acabou sendo criada pelas irmãs.
Teleca tinha 13 anos em 1976. Viria morar conosco para estudar. Para cuidar de mim, enquanto meus pais trabalhavam. E também lhe tocaram algumas tarefas domésticas. Das quais ela, com razão, sempre se ressentiu.
Teleca não teve a infância que queria. Nem a adolescência com a qual talvez sonhasse. Parece uma sina comum entre órfãos – ter de trabalhar para sobreviver. Mesmo em casa de outros membros da família. Comida e roupa lavada costumam vir com um preço quando seu pai e sua mãe não estão disponíveis (e às vezes até quando é com eles que você está lidando) – nem que seja cozinhar a comida e lavar a roupa, a sua e a dos outros, ou pajear as crianças presentes.
Vou sempre lembrar de Teleca quando tocar Tina Charles – ela talvez se espelhasse naquela morena, um pouco mais velha que ela, não especialmente bonita, algo tímida, de olhos tristes, que sabia cantar, e dançar no estilo disco, e que usava as roupas e maquiagens e penteados da época.
(Ou tudo isso talvez seja só coisa da minha cabeça. Talvez Teleca nunca tenha visto uma foto sequer de Tina Charles, e talvez Dance Little Lady Dance ou I Love to Love nem tenham marcado aquela época para ela tanto assim.)
Vou lembrar para sempre do picolé tricolor no armazém da esquina, que era um sonho de consumo fora do nosso alcance naquelas tardes escaldantes de verão. E do gosto do arroz com feijão e batata que ela requentava para o jantar, e que pegavam no fundo da panela, ressaltando seu tempero de modo delicioso. E do remédio de cheiro asséptico e forte que ela me ajudava a passar no corpo depois do banho, antes de vestir o pijama, para assistirmos a novela Casarão.
Vou lembrar das merendinhas, miniwafers da Mirabel, que comíamos quando ela me levava de ônibus para a natação, nos dias frios e ensolarados de inverno – quando invariavelmente tocava If You Leave Me Now, do Chicago, e Fernando, do Abba. E da gente brincando de ler livros e de escrever em cadernos, enquanto eu me alfabetizava. E do chá preto adocicado com pão d'água e margarina salgadinha, uma gostosura que ela me oferecia no meio da tarde, enquanto assistíamos desenhos animados na televisão preto e branco.
Vou lembrar da visão do terreno baldio que tínhamos da nossa janela no segundo andar, e do sentimento de abandono e de tempo inerte que pairava ali. Do álbum de Star Wars que não cheguei a fazer. Do tubarão de borracha, cheio de pastilhas baratas de açúcar e anilina, que um dia compramos de um caminhão que estacionou em frente ao prédio, e com o qual eu gostava de brincar no banho.
Vou lembrar de I Loved You, de Freddy Cole, e de João e Maria, de Chico Buarque, da trilha de Dancin' Days, que embalavam, talvez, algum sentimento romântico que Teleca pudesse nutrir por um colega da escola. (Lembro vagamente de um cara chamado Ronald. Ela o chamava, em segredo, de Pato Ronald, e ria disso.)
Moramos quatro anos juntos. Em 1978 meus pais se separaram. E no ano seguinte Teleca e eu fomos morar com meu pai. Foi o último momento em que contei com a sua guarda. Mas creio sempre ter contado com seu carinho. Teleca sempre sorriu para mim, sempre deu risada comigo, sempre foi parceira e presente, sempre me tratou como ao seu mano caçula.
Tinha um sanduíche com pão e maionese que ela preparava para mim – um sabor novo que se misturava ao cheiro de tinta fresca na nova morada. Ela me instava a não afrouxar a perna para um menino que me hostilizava na vizinhança.
Lembro da gente assistindo Ciranda, Cirandinha, que passava tarde da noite – ao menos para um garoto de 8 anos. Glória Pires e Lídia Brondi eram, talvez, as referências femininas para a Teleca. Assim como seus heróis geracionais talvez fossem os protagonistas daquela série sobre a juventude dos anos 70: Lucélia Santos, Denise Bandeira, Jorge Fernando, Fabio Jr., Lauro Corona.
Lembro dela me ajudando com a tabuada. (Quando ela arrumava tempo para estudar suas próprias lições?) E de um dia em que ela me chamou para mostrar a umas colegas como eu era inteligente, porque eu era uma criança que não dizia "célebro" – e foi exatamente isso que eu pronunciei quando ele me pediu para dizer "cérebro".
Findos os anos 70, Teleca outra vez trocou de casa. Era 1980, uma nova década começava, e ela, aos 17 anos, foi morar com a irmã mais velha noutra cidade. Para completar os estudos, terminar de virar adulta, namorar, ver a vida, ficar livre daquele compromisso que ela, muito cedo na vida, se viu tendo de assumir: cuidar de mim.
Cinco anos depois, Teleca e eu voltamos a morar juntos. Teleca retornava à cidade universitária, para morar na casa de meu pai, um pouso com o qual ela podia contar, e reconstruir sua vida. Tínhamos trocado cartas e nos visitado esporadicamente naquele período afastados. Havíamos crescido. Eu estava com 14, não era mais uma criança. Ela tinha 22, não era mais uma adolescente.
Teleca casara prematuramente. Para se separar logo depois. (Talvez ela ansiasse por morar finalmente numa casa que pudesse chamar de sua, e tivesse percebido que continuava morando na casa de alguém – dessa vez, seu marido.) A irmã mais velha também tinha constituído família e Teleca perdera sua roomate. Era preciso migrar de novo.
Eu estava entrando no torvelinho da adolescência – 1985 foi um ano confuso para mim. E Teleca também vivia tempos desafiadores. Ela completara o segundo grau, mas não havia encontrado condições de fazer uma faculdade. Começou a trabalhar como vendedora numa loja de ferragens – se não vendesse nada ao longo do dia, tinha que comprar um saco de pregos, que não levava para casa, era apenas um desconto no salário que lhe permitia cumprir a cota diária.
Teleca tinha um sentimento de revolta bem debaixo da pele. Pela morte da mãe, que mal conheceu; pela orfandade e pela itinerância forçada por casas que nunca eram a sua. Às vezes isso aflorava. Às vezes falávamos sobre isso. Mas a lembrança que tenho dela é de maciez, de bom humor, de acolhimento e compreensão.
Teleca morreu em 2006. Aos 43 anos. Ainda mais cedo que sua mãe. De um câncer que ela em determinado momento decidiu não tratar. Deixou um filho de 17 anos e uma filha de 6.
Teleca, minha gata borralheira, minha Cinderela, minha tia querida, minha afetuosa irmã mais velha. Sinto muitas saudades. Hoje, decidi escrever sobre isso. Que vontade de te dar um abraço apertado, sentir seu perfume, o cheiro bom do seu cabelo, e te dizer – muito obrigado por tudo.
(Inclusive por ter me recebido aquela vez em que fugi de casa e pulei pela janela do quarto que você alugava naquela casa para moças, e esperei lá dentro, embaixo da cama, em absoluto silêncio, até você chegar do serviço. Queria que você estivesse aqui agora para rirmos juntos disso tudo.)
Me resta a alegria de te encontrar numa foto que vejo da sua filha na rede social. (Ela está linda, viu?) Ou num jeito de sorrir da minha filha. Ou num olhar do meu filho. E perceber que minha caminhada tem um pouco de você. E que você estará comigo aonde quer que eu vá.
Adriano Silva é jornalista e empreendedor, CEO & Founder da The Factory e Publisher do Projeto Draft e do Draft Canada. Autor de nove livros, entre eles a série O Executivo Sincero, Treze Meses Dentro da TV e A República dos Editores. Foi Diretor de Redação da Superinteressante e Chefe de Redação do Fantástico, na TV Globo.

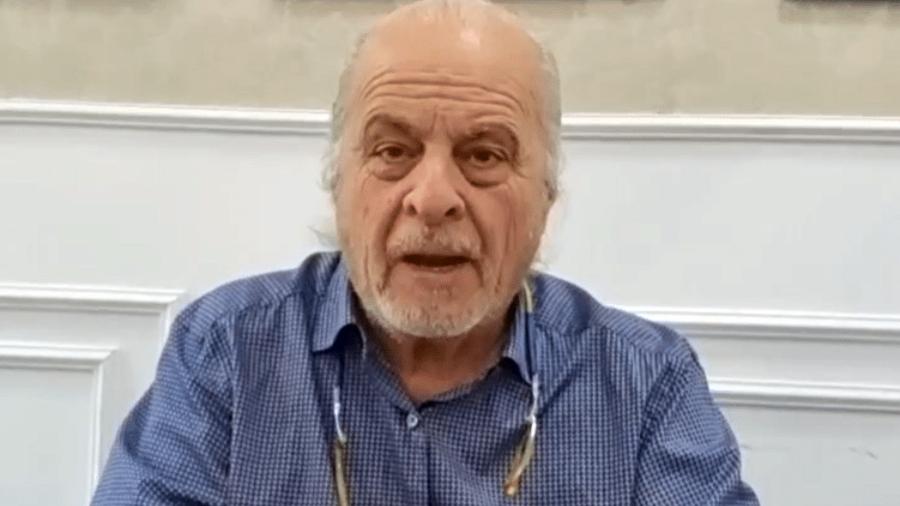







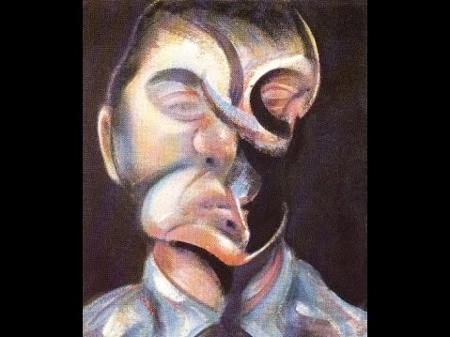




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.