A redenção dessa Copa não é de nossas meninas, mas de quem as ignorou
Esses dias eu estava no clube, à espera da minha aula de Pilates, e dediquei alguns minutos a acompanhar o treino de futsal de um grupo de pré-adolescentes.
(Parei de jogar futebol, meu esporte predileto, há três anos, por conta de uma lesão na coluna lombar, que desconfio ter adquirido – ou agravado – nos treinos de boxe. Depois dos 40, tem certas atividades de alto impacto de que não dá mais para realizar. Aprendi isso do modo mais duro – tendo que abandonar a minha pelada semanal.)
Primeira surpresa: a aula de futsal acolhia um grupo misto. Meninos e meninas mais ou menos entre 12 e 14 anos jogando juntos.
Segunda surpresa: o craque em quadra, o leão do treino, quem estava comendo a bola, era uma menina. Magrinha, com longos cabelos lisos bem presos num rabo-de-cavalo.
Meu primeiro pensamento foi: caramba, por que as mulheres ficaram tanto tempo sem acesso a esse imenso prazer que é jogar futebol? Como pudemos trancafiá-las do lado de fora dessa dimensão maravilhosa que se abre toda vez que alguém rola uma bola, faz uma tabela rápida, tenta um drible, arrisca um chute de longe, salva um gol em cima da linha, antecipa jogadas riscando no éter um ponto futuro que só existe no lampejo criativo de quem joga?
Essa é uma enorme injustiça que se fez historicamente com as meninas mundo afora, mas, principalmente, aqui no Brasil. No país do futebol, o futebol sempre foi um espaço masculino, cheio de testosterona, proibido às mulheres.
No início dos anos 80, fundei um time no BNH em que morava – a AFAR (Associação de Futebol Águia Rubra). Nossa equipe, formada pelos garotos do prédio, mais uns vizinhos de rua, não tinha só um nome pomposo: tinha também um jogo de camisetas novinho em folha com escudo bordado à mão pela minha mãe. Costumávamos jogar na quadra de asfalto do bairro aos sábados, às 8h da manhã. Era um Clube do Bolinha: não se cogitava a presença feminina em nossos treinos e partidas.
Ana Cláudia era nossa amiga. Morava mais abaixo na rua, numa casa feita de madeira que parecia estar sempre suja de terra. Era mais pobre do que nós, andava quase sempre de pé descalço. E gostava de estar conosco. Era uma época em que meninas não brincavam muito com meninos. Ana vinha, com suas roupas surradas, e subia conosco na amoreira no terreno baldio, e brincava de esconde-esconde, e de polícia-e-ladrão.
Desconfio que isso a afastava um pouco das demais meninas que moravam nos edifícios da rua – porque ela era moleca e nos acompanhava em nossas várias fabulações. Fazia guerrinha de cinamomo, ria alto e sabia empurrar. Desconfio também que Ana preferia, sempre que podia, estar fora de casa. Ela tinha um irmão mais velho que muitas vezes vinha lhe buscar e a levava de volta para a casa, pelos cabelos, aos murros e tapas. Ana pela rua, aos gritos, chorando de vergonha e de dor.
Dizia-se que a família de Ana era "macumbeira", que tinha um terreiro de "saravá" na sua casa. Então ela não tinha muitos amigos, além da gente. A gente a acolhia. Mas não para o futebol.
Ela era mais atlética do que muitos de nós. Tinha a agilidade de quem apanha. Aprendera a driblar, quem sabe, escapando da violência doméstica. Talvez jogasse bem futebol. Não sei dizer. Nunca lhe demos essa chance.
Tenho até hoje uma foto do time perfilado. Com aquelas cores edulcoradas que as Kodak capturavam há quarenta anos. Ana está conosco. Ao meu lado. De braços cruzados, sorriso aberto com seus dentes encavalados, com seu cabelo tigela, mal cortado, vestindo um conjuntinho de malha azul que talvez fosse a sua única roupa de domingo – ou de sair em foto.
Era duro ser mulher naquela época, no Brasil. Mas era ainda mais duro para Ana.
Alguns anos mais tarde, quando comecei a frequentar estádios, o ambiente ainda era francamente hostil às mulheres. Só havia homens nos estádios. Era um ambiente bruto. E embrutecedor. Quando entrava uma mulher, geralmente acompanhada de um homem (que buscava lhe proteger com sua condição masculina, ou então mostrar à horda que aquela fêmea tinha dono, e que ela estava ali sob a guarda do proprietário), era xingada em coro.
Todos riam naquele rito patético de insultar a torcida adversária – e também as mulheres que vestiam suas próprias cores.
Estádios eram lugares – literalmente – escrotos, que expeliam as mulheres à força de ofensas. Uma mulher ir sozinha ao estádio era uma impossibilidade. E mesmo acompanhada por uma ou mais amigas, é coisa que não lembro de ter visto.
Por tudo isso, não é de surpreender que entre 1941 e 1979 as mulheres tenham sido proibidas por lei de jogar futebol no Brasil. Se a mulher que ia ao estádio era puta na minha adolescência, a mulher que jogava futebol na minha infância era lésbica. Sapatão. Ou, na delicada forma gaúcha de dizê-lo, "machorra".
Por tudo isso, torço muito para que a Seleção Feminina do Brasil vá longe nessa Copa do Mundo. E faça bonito. Que nossas meninas se divirtam. E divirtam todo mundo.
Nossa televisão – e, com ela, a sociedade brasileira – está tomando tarde a decisão de apoiar o futebol feminino. O que está sendo apresentado como novidade é apenas a constatação de um enorme atraso. (Nos dois sentidos do termo.)
De todo modo, torço por Marta, por Cristiane, por Formiga e companhia – o que inclui as milhares de Anas Cláudias segregadas e humilhadas ao longo de anos, que ficaram pelo caminho.
As meninas merecem a glória. Simplesmente por terem resistido e vencido. Nós, ainda que imerecidamente, teremos a glória de vê-las em ação. Não sei se essa Copa trará a redenção dessa geração de craques. Mas certamente está trazendo a nossa.
Adriano Silva é jornalista e empreendedor, CEO & Founder da The Factory e Publisher do Projeto Draft. Autor de nove livros, entre eles a série O Executivo Sincero, Treze Meses Dentro da TV e A República dos Editores. Foi Diretor de Redação da Superinteressante e Chefe de Redação do Fantástico, na TV Globo.









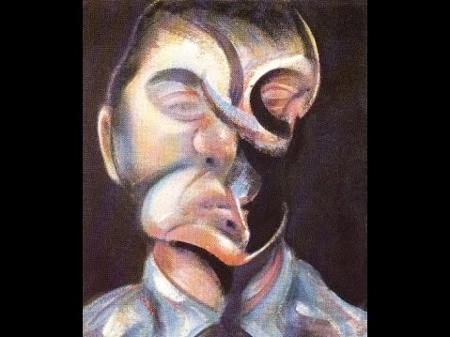




ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.